FEMINISMO NEGRO, EMPODERAMENTO E EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA PARA A LIBERDADE
- Edicarla Correia de Sá

- 16 de nov. de 2020
- 13 min de leitura
FEMINISMO NEGRO E EMPODERAMENTO COMO CATEGORIAS CHAVES PARA A CONCRETIZAÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA PARA A LIBERDADE
Boa noite, sou Edicarla Correia de Sá. Primeiramente agradecer as professoras Carmélia Miranda e Eliane do Sacramento, ao LAHAFRO, pela oportunidade de estar dividindo este espaço de conhecimento com todos e todas vocês, em especial com Vaneza de Oliveira, minha parceira neste trilhar por uma educação como prática para liberdade, amiga e irmã, parabéns pela sua aula. Uso as palavras de bell hooks para que meu agradecimento alcance a todos e todas, quando diz:
"sou grata às muitas mulheres e homens que ousaram criar teoria a partir do lugar da dor e da luta, que expõem corajosamente suas feridas para nos oferecer sua experiência como mestra e guia, como meio para mapear novas jornadas teóricas" (bell hooks - do livro Ensinando a transgredir/ a educação como prática de liberdade).
Estou aqui para colaborar com a aula de Vaneza, com a discussão baseada na experiência e na prática da educação básica sobre feminismo negro, sobre empoderamento e, em especial, sobre a prática por uma educação descolonizadora, no sentido de trilharmos caminhos possíveis para uma educação como prática de liberdade.
O tema que vamos discutir hoje atravessa minha pesquisa, a forma como vejo o mundo, como atuo na minha professoralidade, e como mulher, como moradora de comunidade rural quilombola, pesquisadora e colaboradora da comunidade da qual faço parte e da comunidade de Cazumba, aqui no município de Senhor do Bonfim.
Tais temas atravessam e potencializam meu fazer na educação básica, na universidade, na formação de professores, em minha forma de ser, estar com, ser afetada e afeta o mundo. Amplia meu olhar, contribui para a descolonização de minha mente, do meu corpo, para que assim eu possa desenvolver práticas que comunguem com uma proposta de educação para liberdade, daqueles e daquelas que estão próximo/próxima a mim.
Conceitos que para mim, estão interligados pelos seus paradigmas, pelo seu processo de construção e aprofundamento de teoria, prática e epistemologia. Que começa à muito tempo, trago como referência Sojouner Truth com um discussão forte contra a invisibilidade, quando ela diz “Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar! E não sou uma mulher? Olhem para mim!”
Nos mostra que há muito tempo mulheres negras vem lutando para serem consideradas e vistas pela sociedade, ao longo da história, como sujeitos políticos produtoras de discursos contra-hegemônicos. Contra o próprio dilema do feminismo hegemônico e à universalização da categoria mulher. Teoriciza a partir da própria experiência a fim de que o público que a ouvia na época, percebesse as várias possibilidades de ser mulher. Giovana Xavier, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro em seu artigo “Feminismo: direitos autorais de uma prática linda e preta” nos pergunta, nos convida a refletir:
“Quem, no Brasil e no mundo, são as pioneiras na autoria de projetos e na condução de experiências em nome da igualdade e da liberdade? De quem é a voz que foi reprimida para que a história única do feminismo virasse verdade?”
Quem são as pioneiras na autoria de práticas feministas desde antes da travessia do Atlântico?
Na minha pesquisa de mestrado em Educação e Diversidade, da UNEB, navego pelos caminhos deste conhecimento ancestral, trago a imagética da árvore da vida, dos sonhos, para falar deste conhecimento enraizado na ancestralidade, compromissado com a visibilidade e o registro de práticas descolonizadoras, de empoderamento e feministas. Ao realizar à pesquisar na comunidade rural quilombola de Cazumba, aqui no município de Senhor do Bonfim, Território de Identidade do Piemonte do Itapicuru, região norte da Bahia, uma das 13 comunidades quilombolas rurais do município de Senhor do Bonfim, e eu por residir na comunidade quilombola vizinha, ter uma relação afetiva com a comunidade, e as demais que rodeiam à que vivo; sempre foi visível, sentido e vivido a reciprocidade e a solidariedade que é praticada nesta forma de viver em comunidade.
Porém a comunidade de Cazumba se destaca entre as demais por ser a única entre todas, que tem um lugar de memória, um museu quilombola. Um lugar de registro de suas memórias coletivas, se sua identidade coletiva, o que agora com o olhar de educadora, que forma professores e professoras na educação básica, me convoca a refletir sobre esta pedagogia descolonizante, que vai contra a hegemonia da história única da colonização. Na busca de compreender e registrar este modo de viver em comunidade que criar uma pedagogia própria e transgressora como fala bell hooks, uma pedagogia de resistência, permanência, luta pela terra; e, para educar para a liberdade.
Um lugar para conferir visibilidade às histórias, a memória, a criatividade, o modo de viver em comunidade como já dito, estas categorias que se realizam na prática que são a reciprocidade e a solidariedade. Quando Sojouner Truth diz a todas nós: “É melhor vocês mesmas reformarem a si mesmas em primeiro lugar” ela nos diz para nos fortalecermos nessas redes de solidariedade, em comunidade, redes entre as mulheres, nesse processo de descolonizar-se, de empoderar-se a si, para ressoar ao outro, ao coletivo e propor ações concretas de intervenção com o mundo.
Este modo de viver em comunidade, estas redes de solidariedade que falo baseados no empoderamento e feminismo negro, começam mesmo antes destes conceitos tornarem-se comuns, à exemplo de práticas dessas redes de reciprocidade podemos ver: “aquele passar o olho no filho de fulana que ela tem algo a resolver”, “quando vai dar à luz, são as vizinhas, as mulheres da família que estão ali para ajudar no parto, no cuidado da casa, dos outros filhos”, “nas conversas na realização dos trabalhos coletivos”, a exemplo dos trabalhos desenvolvidos em comunidade rurais em nosso território, novamente trazendo minha experiência, minha vivência de comunidade rural e quilombola, por viver, ver, sentir essas epistemologias, via essa reciprocidade na quebra do licuri, quando alguém adoecia, do buscar à água no rio, ir lavar a roupa no açude, enquanto nós crianças brincávamos, as nossas mães conversavam, desabafavam, cantavam, aconselhavam umas às outras, fortalecendo suas relações de afetividade, relações decoloniais na partilha de processos de fortalecimento de autonomia, de saúde emocional, de resistência por meio de sua própria vivência, experienciadas numa coletividade feminina.
Como fica claro na pesquisa e estudo também da professora Carmélia Miranda, no texto intitulado Mulheres Quilombolas do sertão da Bahia: labuta cotidiana e desafios constantes, que nos traz as experiências de mulheres quilombolas, partindo do cotidiano delas, no assumir dos diversos papéis, mães, educadoras, avós, sambistas, criam, afirmam e reafirmam também outros papéis, como militante, intelectual e política, neste contexto de coletividade feminina, do eu com o outro, do nós, do somos. Texto que está no livro Do pilão ao batom / Histórias de mulheres quilombolas.
bell hooks, em seus livros, traz sua experiência como pedagoga, feminista, como pessoa nos recortes da infância, adolescência, e se coloca como intelectual negra, ultrapassando à fronteira da verdade única, da epistemologia única, de que nossas experiências não podem ser lugar para a construção de teoria.
Sou escritora, tenho um site-blog que se chama Diário de uma pedagoga, e por um tempo tive dificuldade de me colocar neste lugar de intelectual, foi um processo me identificar assim para as pessoas, auto-afirmar publicamente como Escritora, Intelectual, devemos fazer isso, ao fazer estamos ultrapassando essas fronteiras que sempre nos calaram nos colocando em um lugar de negação, de invisibilidade, de julgamento, de algo menor do que realmente somos. Por que é o que esperam de nós, em especial quando estamos em um ambiente majoritariamente masculino, digo isso por recentemente está atuando em um ambiente assim, esperam de nós um corpo que não pensa, não fala ou rebate as ideias e as verdades masculinas. Assim é também nos relacionamentos, como um corpo que está sendo observado, julgado, para ser quantificada, qualificada se digna ou não digna. E para as mulheres negras, esse julgamento e invisibilidade aumenta ainda mais. Como Linda Alcoff fala sobre nós mulheres, em especial sobre as mulheres negras, esperam um corpo “metafisicamente não sofisticados e politicamente retrógrados”.
Djamila Ribeiro nos fala que “a mulher não é definida em si mesma, mas em relação ao homem e através do olhar do homem. Olhar este que nos confina à mulher um papel de submissão que comporta significações hierarquizadas”. “O outro do outro” como diz Grada Kilomba.
Se trabalhamos muito não temos tempo para ter uma família, se caso dedica-se à família é uma mulher acomodada que não trabalha, e outros tantos papéis e definições apontadas que prefiguram as representações sociais do olhar masculino cis sobre nós. Se dirigi bem ganha o “elogio”, dirigi como um homem.
Quando assumimos quem somos, estamos desafiando o colonialismo que cria e reifica nossas identidades, enfrentando as hierarquias estabelecidas por ele, contribuindo para desvelar, colocar num lugar de desconforto, de incômodo mesmo, porque é nesse sentir desconforto do opressor que estamos o forçando a desvelar o uso que as instituições fazem das identidades para oprimir ou privilegiar.
No lugar que ocupo, falo como professora, coordenadora da educação básica, que atua na formação de professores, na comunidade em que moro, na comunidade da qual colaboro como pesquisadora, me pergunto sempre como posso contribuir nas discussões sobre feminismo negro, sobre descolonização da educação, sobre empoderamento?
O que quero com este debate é que, fundamentalmente, possamos entender à ligação que há entre estes conceitos, que vagueiam-se em outros, à exemplo de como o poder e a identidade funcionam, como estão implicados com as relações de resistência e enfrentamento que construímos para a constituição de práticas descoloniais e feministas. E como o colonialismo cria, deslegitima ou legitima certas identidades.
O que quero trazer para nossa aula aqui, são as questões que envolvem à categoria empoderamento, vejo que o conceito tem sido apropriado e entendido de maneira muito distorcida em alguns locais pelo qual tenho vivido algumas experiências, como se o conceito de empoderamento estive ligado simplesmente a um corpo feminino que trabalha, ou seja alguém que é independente financeiramente de um corpo masculino. E não é isso.
Joice Berth nos esclarece em seu livro intitulado Empoderamento, que faz parte da Coleção Feminismos Plurais, organizado por Djamila Ribeiro, que está categoria tem a ver com a própria descolonização de indivíduos e de grupos, é o que Paulo Freire nos ensina quando diz que uma educação deve radicalizar o nosso próprio eu a partir de uma tomada de consciência, e à partir daí construir processos de liberdade coletiva através da educação por meio de ações concretas.
É o que bell hooks também nos diz quando afirma “(abre aspas) a sororidade femininista deve estar fundada no comprometimento compartilhado de lutar contra a injustiça patriarcal, não importa a forma que a injustiça toma” (fecha aspas), o empoderamento de si e do outro não termina em mim, começa em mim para continuar no outro, na forma como intervenho com o mundo.
Isto está claro quando Sojouner Truth diz, “É melhor vocês mesmas reformarem a si mesmas em primeiro lugar”.
É o que estamos fazendo aqui, através desta formação, abrindo um espaço para discussões sobre racismo, sobre o tráfico de escravos e escravidão, sobre África, Africanidades, sobre feminismo negro e descolonização de nossos corpos, mentes, sobre à descolonização da educação.
Este chamamento ligado à disponibilidade de cada um que está aqui para entender como identidades e sociedade se fundam é essencial para este processo de descolonização, para assim, na prática social de cada um, cada uma, poder construir ações que façam jus às aprendizagens aqui construídas coletivamente.
Quando expomos o racismo, que homens negros são vítimas do racismo, inclusive, estão abaixo das mulheres brancas na pirâmide social, e que mulheres negras, como Grada Kilomba nos diz, são “o outro do outro” por estarem num lugar ainda mais difícil da sociedade supremacista branca e machista, por não serem homens e nem serem brancas, estamos propondo discussões com bases para à descolonização descortinando o projeto colonial que a sociedade foi construída e ainda assenta-se.
Está é uma interpretação para o que Angela Davis diz, ao afirmar que “quando uma mulher negra se movimenta ela move toda uma estrutura”, ela está na base desta estrutura, quando ela se movimenta, impulsiona toda uma classe.
Trazer à tona essas identidades é uma questão prioritária para romper com a invisibilidade, com os silenciamentos, com aqueles nós na garganta, pois se não se nomeia, não nota-se as diferentes realidades, se não notamos a diversidade, tão pouco pensaremos melhorias, ou políticas públicas que atendam a diversidade, em nosso território podemos ver esta diversidade na mulher remanescente quilombola, na mulher indígena, na mulher do campo, da cidade, cigana, trans, lésbica, se à diversidade não é vista, considerada, desde a educação básica, lá na escola, no início de sua vida educacional, tão pouco causaremos grandes impactos no currículo escolar, diversidade esta que está a gritar com seu corpo e sua voz por direitos, por espaços, que estar reivindicando o direito a própria vida.
Logo, quando mulheres negras insistem em autodefinirem-se, autoavaliarem-se, propõem-se em construir uma análise centrada na mulher, valorizando teorias construídas a partir de suas próprias experiências e pontos de vista, elas estão demarcando possibilidades de transcendência da norma colonizadora, ao pensar nestas novas formas de sociabilidades.
Ou melhor, por teoricizar as formas de sociabilidade que já são construídas, vivenciadas historicamente por mulheres negras, em comunidade, coletivamente, perpassando conceitos, epistemologias, através de redes de solidariedade, reciprocidade e lugares de memória, que se traduzem em estratégias de sobrevivência, resistência e inventividade.
O feminismo negro luta por todos e por todas, move toda a sociedade ao lutar para combater o sexismo e o patriarcado, em todas as estruturas, a socióloga Vilma Reis nos dá um exemplo claro disso ao afirmar que é à mulher negra que empurra à esquerda para a esquerda. E isto se realiza na tomada de consciência de si, do outro, está tomada de consciência é o EMPODERAMENTO, está longe da ideia “dar poder”, está mais próximo de “tomar o poder”, o poder que outrora fora tirado, adulterado e complexificado em um padrão de sociedade.
O poder que falamos parte da ação coletiva, parte da ação individual. Foucault diz que poder é uma prática social construída historicamente, se então prática social, portanto é uma pedagogia, se assim é, podemos dizer uma forma de educação, então, como nos ensina Joice Berth, empoderamento pode ser articulada por indivíduos, grupos, por diversos estágios de autoafirmação, autovalorização, autorreconhecimento e auto-conhecimento de si, de sua posição social, política e história, sobre o mundo à sua volta, para assim, descolonizar-se e criar episódios de subversão, transgressão, com o objetivo de inverter a lógica atual em contribuir para empoderamento de outras e outros, este processo vai objetivar a construção de estratégias de enfrentamento às práticas do sistema de dominação machista e racista.
Empoderar-se no feminismo negro exigi de nós, portanto, a compreensão deste conceito em suas possibilidades. Algumas vezes ele pode ser resumido em autoaceitação da própria estética, o que envolve também, mas não se limita apenas à isso, Zimmerman e Perkins no diz que empoderar-se é uma construção que “une a saúde mental à ajuda mútua e luta para criar uma resposta comunitária”. Passa sim pelo auto-conhecimento, auto-amor, amor que não dito e visto de uma forma romântica, mas como prática, que envolve o auto-cuidado e à saúde mental à reciprocidade e à solidariedade.
Paulo Freire associa empoderamento a uma consciência crítica da realidade associada a uma prática transformadora, ou seja, parte da tomada de consciência que começa comigo, individualmente, para uma intervenção social, não fica apenas numa compreensão das coisa, da realidade à nossa volta, precisa sim começar conosco para implicar em ações continuadas. Movimento que começa internamente, “no despertar de diversas potencialidades que definirão estratégias de enfrentamento das práticas do sistema de dominação machista e racista” como nos diz Joice Berth.
Não se resume a se colocar no lugar do outro e ter sentimento de compaixão, assim como o amor, que é verbo e portanto exige ação, caso contrário é apenas uma palavra que cai num romantismo esvaziado; empoderamento tem à ver com prática, uma construção intelectual que demanda disponibilidade e esforço, para aprender e ouvir.
Entramos na compreensão de lugares de fala, estar aberto a aprender pelo olhar do outro/a é entender as diferentes posições que ocupamos, Patrícia Hill Collins lança mão do conceito de matriz de dominação para pensar na intersecção das desigualdades, na qual à mesma pessoa pode se encontrar em diferentes posições.
Caso contrário caímos em reformismos, ações pontuais e não em transformação, em uma real educação como prática para a liberdade. Precisamos reconhecer as diferenças e à diversidade, à existência das diferentes formas de ser mulher, assentando-nos no entrecruzamento entre gênero, raça, classe, geração, sem predominância de um sobre o outro.
Trazer tal discussão para a escola por exemplo, desde o início da educação básica, em ações de educação como prática de liberdade, reconhecer que partimos de lugares diferentes, que experienciamos gênero de modos diferentes, estaremos deslegitimação as formas de exclusão, pois fizemos o caminho contrário da invisibilização, do silenciamento, na afirmação das diferentes formas de sentir, ser, afetar, viver e intervir com o mundo. A afirmação das diferentes formas de ser mulher, uma forma de iniciar um processo que possa transcender a norma colonizadora.
É preciso sair dos “círculos de segurança” nos quais nos aprisionamos acomodadamente para engajar-se em tais questões, Paulo Freire afirma que se nossa compreensão de mundo, de sujeito, de sociedade “é crítica ou preponderantemente crítica, a ação também será. Se é mágica a compreensão, mágica será à ação.” A ilusão confortável que nos propõe a visão de uma sociedade colonizada conforta quem está numa posição privilegiada, é confortável estar aprisionado neste sistema se está vivenciando e usufruindo dos espólios da colonização, por assim dizer.
Ou seja, uma consciência crítica é condição indissociável do empoderamento. Por isso associar este conhecimento à escola, à educação, um currículo que se propõe a realização de uma educação descolonizadora, se propõe realizar uma educação como prática para liberdade, deve ter o empoderamento, feminismo negro, racismo, toda à discussão e reflexão interseccional para se compreender à sociedade e assim ser uma educação voltada para a conscientização de indivíduos e grupos.
Para os dispostos, conhecer a realidade é pré-requisito para melhor poder transformá-la. Vimos aqui que o feminismo negro está intimamente ligado ao empoderamento, e este a descolonização de mentes e corpos através de uma educação comprometida com uma prática para a liberdade. Um indivíduo empoderado, pode formar uma coletividade empoderada, consequentemente, uma comunidade com “alto grau de recuperação da consciência do seu eu social, de suas implicações e agravantes” (JOICE BERTH). Assim como observado na pesquisa de mestrado em educação e diversidade, na comunidade de Cazumba, à construção de vivência de um lugar de memória como pedagogia construída coletivamente, colaborativamente, remete à uma educação como prática para à liberdade de toda à comunidade.
Rompendo com a mercantilização da educação, com a história única da colonização, para a formulação de uma consciência crítica, de uma identidade coletiva, histórica, ancestral, pelo artesanato de si e do outro em contexto dialógico e colaborativo. Permitindo que vozes de hoje reverberem e ressoem vozes do passado.
Rompendo com as máscaras da colonização, como Grada Kilomba tão bem explicita em seu livro Memórias da Plantação, ao falar da máscara utilizada nas pessoas e povos africanos que foram escravizados, cuja função principal era implementar o medo e a mudez. Ela simboliza a prática política sádica da conquista e dominação, e nos traz perguntas que nos faz refletir sobre o silenciamento: Quem pode falar? O que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar?
Ao falar, deslevamos à história única, disputa-se narrativas, traz à tona o sadismo e à violência dos heróis que surgem nos livros de história que levam o título de bandeirantes, generais, príncipes, coronéis, trazendo para o momento atual, presidentes.
Para finalizar e abrir para as perguntas dos e das cursistas, quero que fiquemos atentos, trago Joice Berth para o centro para que nos diga mais uma vez “não é possível formar um pensamento crítico completo, em qualquer área do conhecimento, negando os apagamentos e exclusões fomentados ao longo da nossa História.”
Neste sentido é urgente falar sobre as diversas temáticas do pensamento do Feminismo Negro, criar um ambiente confortável para isto, para troca de experiências coletivas e conjuntas de enfrentamento aos variados sistemas de dominação, para à concretização de uma educação como real prática para liberdade. Assumindo um compromisso forte, uma vontade lutar, de permitir que nosso trabalho como professora reflita as práticas pedagógicas compromissadas com a liberdade.



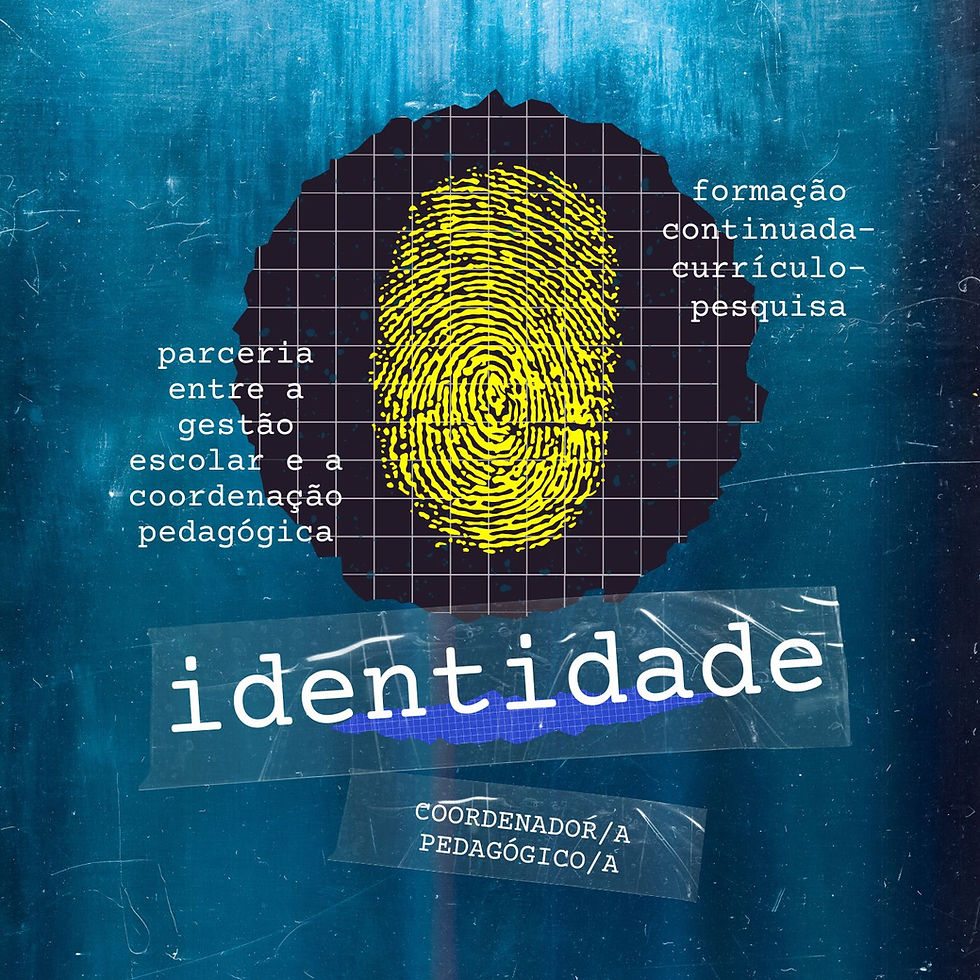

Comentários